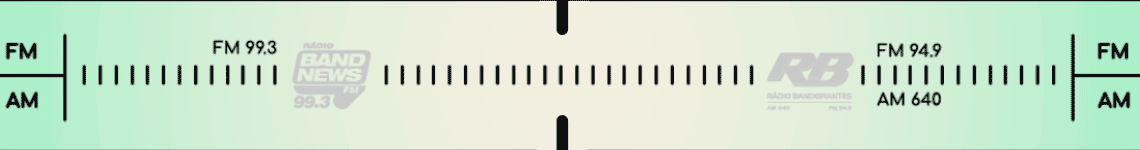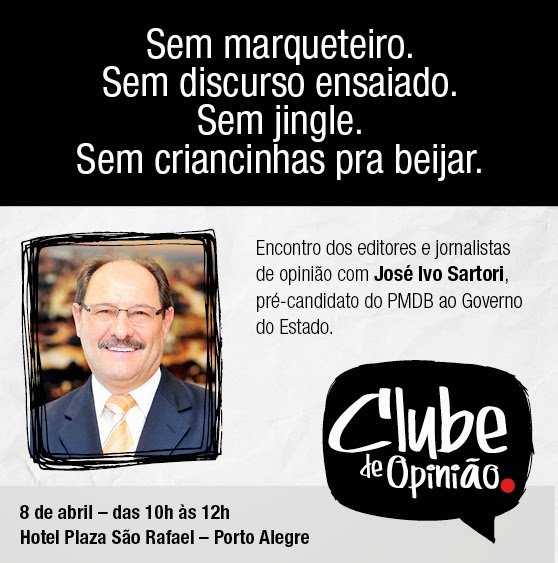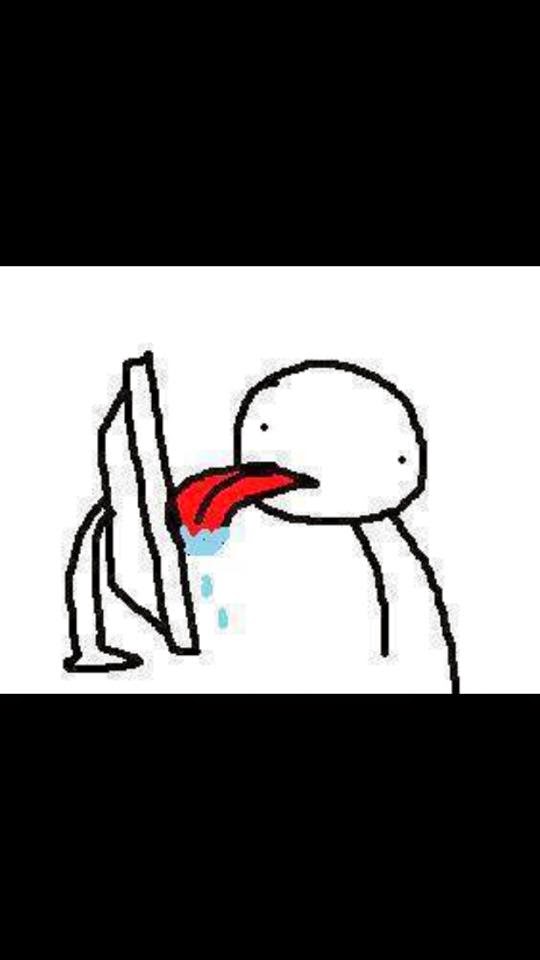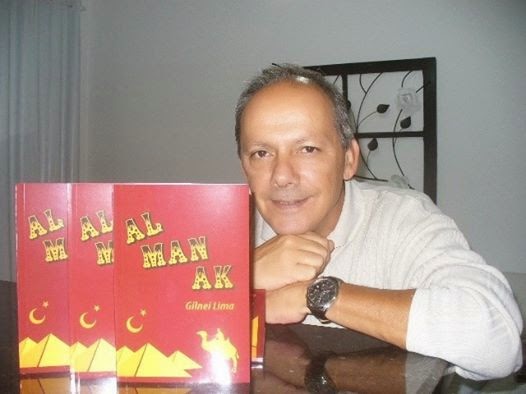A REVOLUÇÃO
DA MINHA JANELA
31 março 1964
Lembro que me criei vendo, no Rio de Janeiro, na TV, Carlos Lacerda dando longos discursos sobre alguma coisa. Sim, porque tinha sete, oito anos. Os olhos de meus pais brilhavam vendo o líder falar. Não entendia nada, e ficava meio irritado porque os programas de Bossa Nova eram interrompidos por causa de Lacerda. É, eu gostava muito daqueles trios de Bossa Nova.
Quando vínhamos a Porto Alegre, minha mãe discutia muito com seu irmão, que era brizolista e cada vez que ia ao Rio, e parava lá em casa, visitava João Goulart, “meu primo”, dizia ele, e minha mãe o contestava dizendo que não era prima de comunista. Mas o levava sempre de carro à casa de Jango e o esperava o tempo necessário.
Tinha sempre na minha cabeça de criança aquela coisa de Lacerda e Jango e nunca gostei das brigas deles porque achava uma coisa séria.
Nessa época fomos morar na rua das Laranjeiras, ao lado do Parque Guinle. O edifício era muito legal e nos fundos tinha um playground e uma imensa garagem, para os carros de todos os apartamentos, onde mais de 40 crianças passavam os dias brincando.
Olhávamos para cima, no sentido oposto ao edifício, e lá estava majestoso o Palácio Laranjeiras, residência oficial do Presidente da República. Sempre planejamos escalar aquele pequeno morro e encarar o presidente, vê-lo, essas bobagens de crianças.
Comecei a me dar conta de que aquelas brigas de minha mãe com seu irmão estavam tomando conta de todos os lugares em que ia. Não estava preocupado, mas como toda criança não suportava aquele clima de discussão permanente.
Íamos na casa de um alto dirigente da Marinha, amigo de meu pai, e eu ficava de longe, escutando o assunto deles. Meu irmão chamava-se Paulo César e em tudo que era dele ele colocava um PC – de Partido Comunista, uma bobagem de um adolescente de 16 anos. Esse amigo do meu pai pedia sempre que ele parasse com aquela mania.
Estamos em 64 e me preparava para me formar no primário, queria entrar logo para o ginásio. Deixaria de ser criança. Definitivamente – pelo menos na minha cabeça. Logo no início do ano, indo para o colégio, na rua Gago Coutinho, vi o carro de Jango. O presidente tinha um sorriso que me fascinou. Minha mãe nem o olhou. Eu ainda dei um abano pra ele. Legal, o cara.
Com o passar dos dias, aquele negócio de comunista, comícios, lacerdista, brizolista, militares foi aumentando. Até que um dia a coisa ficou séria: não tive aula por causa da esculhambação que tinham armado. Não sabia como aquela história tinha sido armada. Mas, para minha tristeza, os programas de Bossa Nova tinham praticamente terminado. Na TV era só política, comunicados, uma chatice. Restavam apenas os desenhos do Popeye e do Pica-Pau.
Fazia judô no próprio colégio, o Franco-Brasileiro, na rua das Laranjeiras. O professor era um militar. Faixa preta. Nos primeiros dias de março o cara desapareceu e ficou o Augusto, um aluno faixa roxa, dando as aulas. Perguntei a ele onde estava o mestre. “Não sei, está escondido porque querem pegá-lo”. Não entendi nada e perguntei ao meu pai, à noite. “Ele deve ser do time do Jango, e os militares, contra o Governo do Jango, devem querer a cabeça dele”, foi a resposta enigmática do meu velho, que me confundiu mais ainda.
Como disse antes, teve um dia que não tive aula. Uma quarta-feira. Era séria a coisa. Minha mãe tinha ido ao mercado, comprar comida para guardar, e meu irmão e eu resolvemos dar uma volta pelo bairro. Olha, era de assustar. Muitos sujeitos com camisas claras e um lenço azul e branco no pescoço, tipo escoteiro. Lembro que o azul e o branco eram as cores da bandeira da Guanabara. Todos com mosquetões que nunca tinha visto de perto. E alisavam aquelas armas com uma flanela. E as balas ali, enfileiradas em cima de caixotes. Estava extasiado com aquele clima de guerra. Discussões era o que mais se via em toda a rua. Lógico, os janguistas paravam para desancar com os lacerdistas e vice-versa. Bem Rio de Janeiro.
Depois de nossa banda, chegando em casa, levamos a maior bronca da mãe por termos saído, “com uma revolução a caminho”. Meu irmão chegou a levar uns puxões de cabelo.
Almoçamos, tal e coisa, e a tarde ia rolando normal, com uma movimentação diferente. Acho que pela primeira vez tinha visto meu pai almoçar em casa durante a semana. Disse que os escritórios da avenida Rio Branco estavam todos fechando e ele não seria bobo de ir contra a correnteza.
No final da tarde, fui na janela e aí não entendi mais nada. Estavam colocando caminhões de lixo atravessados na rua das Laranjeiras. Chamei aos berros todos lá de casa. Bem na frente do nosso edifício. Quatro caminhões. “Vai começar”, disse a minha mãe, com cara de apavorada.
O edifício em que morava tinha quatro apartamentos por andar e, claro, dois eram de fundos. As janelas ficaram tomadas pelos vizinhos do fundo. Todas as janelas dos prédios estavam tomadas de gente. Era uma gritaria danada: “Jango, Jango!!”, “Lacerda, Lacerda!!”. Que nem programa de auditório. Os caras que tinha visto de manhã, com as armas, estavam todos na caçamba dos caminhões, mirando num inimigo invisível. Uma cena muito cômica.
Lá pelas tantas, desce pela rua Gago Coutinho um tanque. Os janguistas aplaudem, gritam. Lá em casa tínhamos três janelas para a rua. Numa ficaram minha mãe e os lacerdistas. Na do lado um vizinho do primeiro andar, que tinha nove filhos e todos janguistas. Na sala fiquei eu e meu pai.
Aí vem aquele tanque, meio combalido, e um gaiato, daqueles de lencinho azul e branco, pega o mosquetão e vai enfrentar o tanque. Silêncio geral. Lembro que ele estava num vermelhão incrível e suava muito. Muito, mesmo. Mas o vermelhão é que me chamou a atenção.
O cara vai marchando, com a arma apontada pro bruto e o bruto vindo. Uma cena inimaginável. Até que o tanque pára. E o sujeito também parou. Abre-se aquela portinha de cima e sai um milico. Jovem. Dá a mão pro cara do mosquetão e os dois se abraçam.
Não entendi nada. As janelas lacerdistas explodem em gritos.
Coisa mais sem graça, pensei.
Na quinta-feira ainda não tivemos aula. À noite, fomos na casa daquele amigo do meu pai que era da Marinha. Fiquei brincando de autorama com o filho dele, mas prestava atenção no que falavam. O cara estava muito triste. Numa hora chegou a chorar. Falava que havia morrido muita gente nos quartéis da Marinha, pois lá estavam os principais focos de resistência ao golpe. Ele havia tomado a decisão de entrar para a reserva.
Na semana seguinte, a situação voltou ao normal, pelo menos pra mim. Aulas normais e caminhando para a minha formatura. Como havia visto Jango, vi o novo presidente num dia. O general Castelo Branco estava numa Mercedes e, desta vez, minha mãe chegou a abanar para ele. Não gostei da cara dele – o sujeito não tinha pescoço.
Apesar de torcer pelo Botafogo, minha família era toda Fluminense. E, lógico, era sócio do clube, até porque era próximo lá de casa. E ia a jogos com meu pai. Num domingo fomos assistir a uma partida do tricolor e ele encontrou um amigo. O cara estava entusiasmado com o golpe, dizia que logo iríamos ter eleições gerais, tal e coisa. Lembro que meu pai o olhou e fez apenas um comentário: “Os militares não saem mais do poder. Conheço eles”. Conhecia, mesmo. Era diretor da Metalúrgica Abramo Eberle e fornecia tudo que era de metal para as três armas.
Tempo para o futuro: em 83 morava em Porto Alegre e fui ao Rio de Janeiro cobrir a posse de Leonel Brizola no Governo do Estado para a Zero Hora. O edifício em que morava na rua das Laranjeiras tinha o número 130. Depois tinha um edifício e passando a Churrascaria Gaúcha, onde íamos pelo menos um vez na semana. Pois não é que o almoço da posse do Brizola foi na Churrascaria, 50 metros onde se deu o desfecho do golpe, 19 anos atrás? O governador assumiu e sua residência oficial era o Palácio Laranjeiras. Bem, no final do ano fui trabalhar no Governo do Rio e uma semana depois fui morar num anexo do Palácio Laranjeiras. Da janela do meu apartamento, via a garagem do edifício em que morava.
Esse mundo…
Voltando.
Dois anos depois o velho morreu e fomos morar em Porto Alegre. Em 68 fomos morar em São Paulo e aí com uma família mais reduzida ainda – minha mãe e eu. No dia em que chegamos a São Paulo um carro havia sido jogado contra a Assembléia Legislativa – e eu não havia a menor idéia do que era Assembléia. “Coisa de terroristas”, disse a mãe. Em São Paulo não havia programas na TV de Bossa Nova e aí fui obrigado a aderir à Jovem Guarda. Vez que outra aparecia um cara na TV dizendo que era terrorista e estava arrependido. Lembro de vários orientais fazendo essa confissão.
Numa noite estávamos saindo de um centro espírita, era quase na frente de um quartel do Exército. Passa um caminhão, numa velocidade não permitida. Os soldados disparam centenas de balas de metralhadora, o caminhão desgoverna e bate num poste. Não fomos ver o que tinha acontecido.
Em 69 voltamos a Porto Alegre. Vida normal.
Estudava num colégio marista. Sempre tive problemas com dentes e o meu dentista, já falecido, era uma figura maravilhosa. Comunista roxo. Conversava muito com ele e me ensinou muita coisa. Me dava livros pra ler. Tornei-me um comunistinha amador.
Os anos foram se passando e em 72 precisava de aulas particulares para passar de ano. Um primo indicou dois colegas para me ensinaram matemática e física. Casualidade ou não, os dois militantes – claro, clandestinos – do PC do B. Terminado o período em que eram pagos, ficávamos horas lanchando e batendo papo. Me falavam da guerrilha do Araguaia, da cartilha de Mao, e eu cada vez mais fascinado com aquele mundo.
Traziam panfletos e eu os distribuía no colégio para amigos fiéis.
No ano seguinte, iria estrear como vendedor de anúncios numa rádio. Saí de casa por volta das oito horas para pegar o carro num edifício ao lado onde morava. Dois caras me abordam:
– José Goulart?
– Não, sou José Luiz Gulart Prévidi.
– Nos acompanhe. Polícia Federal.
E já foram, um de cada lado, pegando no meu braço. Não entendi nada.
No caminho até a sede da PF me encheram de perguntas e sempre me tratando de José Goulart. E eu insistia no meu nome certo. Chegando lá, me botaram numa sala e um cara me vigiava com uma metralhadora sempre apontada. Porra, o que tinha feito de errado? Ninguém me dizia nada. O meu negócio, além de estudar – no terceiro ano do científico –, era andar atrás de gurias. E ler muito.
Ao meio-dia me trouxeram um prato de comida, que não consegui engolir. Na sala onde estava apareceram mais dois sujeitos e ficaram trocando passes com uma bola de futebol de salão com o cara da metralhadora. Eu ali, parado. Um tocou a bola em minha direção e, instintivamente, devolvi. O cara me deu um esporro danado e senti que a coisa não estava legal pro meu lado. Lá pelas tantas tiveram o seguinte diálogo:
– Vai ter banheira de gelo para ele?
– Não me falaram nada ainda. E nem encomendaram o gelo.
Me imaginei pelado dentro de uma banheira coberta de gelo.
No final do dia me levaram até o diretor da PF. Pediu que escrevesse sobre a minha vida. Em duas folhas escrevi o que me veio na cabeça e achei que ia ser liberado. Que nada.
Dormi no térreo, num colchonete, porque nesse tempo as celas estavam ainda sendo construídas – para minha sorte.
É bom lembrar que passei um dia inteiro lá sem saber a razão da minha, digamos, prisão.
Na manhã seguinte, me acordam com um prosaico café da manhã – copo de café com leite e um pão com margarina, que não tomei nem comi. Lá pelas dez, me levaram para uma outra sala. Está lá um negro alto e diz ser o doutor Murilo, diretor do DOPS do Paraná. O cara da metralhadora pergunta se precisa ficar.
– Só se esse marginal se atirar pela janela.
Rapaz, eu era um marginal!
Depois de muitas horas de conversa, o doutor me conta que em Curitiba, no depósito da empresa de transportes Penha, havia sido descoberto um grande pacote com panfletos, cartilhas do Mao, para um José Goulart, e endereçado para o edifício em que morava, sem o apartamento.
Os malucos tinham me mandado material para distribuir aos colegas. Vê só o amadorismo dos nossos contra-revolucionários.
No final da tarde eles se deram conta de que eu era um bobalhão e me liberaram.
Registro obrigatório foi o trabalho da minha mãe, Etna. Quando ela saiu de casa depois de mim, quando me pegaram, o dono de um bar disse a ela que eu tinha sido levado por uns caras com jeito de polícia. Não teve dúvida: foi direto no Palácio Piratini, sede do Governo do Estado. Para entender: o governador Euclides Triches tornou-se amigão de meu pai quando morou no Rio de Janeiro. A minha mãe era muito metida e conseguiu logo uma audiência. Triches assegurou a ela que eu não estaria no Dops. “Só pode estar na Polícia Federal”, disse ele. “A senhora vá lá na avenida Paraná e fale com o superintendente. Leve esse cartão.” Aí, acho, os policiais se deram conta de que eu não passava de um bobalhão, mesmo, filhinho de mamãe.
Fui buscado em casa várias vezes depois, por pura implicância. Uma vez, chegaram lá em casa no final de uma sexta-feira, quando me preparava para ir à aula. Embarquei numa boa. Acontece que o doutor Murilo tinha pedido uma foto minha. Um agente foi no fotógrafo que atendia a PF e ele já tinha encerrado o trabalho.
– Olha, José, vais ter que ficar o final de semana aqui de molho.
Era muita sacanagem. Pedi pra ligar pra minha mãe e ela meia hora depois aparece com dez fotos minhas, desde bebê. O delegado olha pra ela e dispara:
– A senhora tá debochando de mim?
– Não, delegado. Trouxe fotos de todas as fases do rapaz.
Minha mãe era uma figura.
Estavam sempre me seguindo. Sabia quem eram e achava até graça, porque os cumprimentava. Patético, mesmo. Em 74 tive um sério acidente, o que me levou a ter que viver em cima de uma cadeira de rodas. Vez que outra saía com amigos e até mesmo ia para a noite com a minha mãe. Uma vez estava num restaurante onde um conjunto de gaúchos, nossos amigos, tocavam. E lá estava um brutamontes me cuidando. Fui encarar o cara.
– Olha aqui, meu, me larga de mão. Fala lá pro teu chefe que eu tô de cadeira de rodas e não sou terrorista porra nenhuma. Nem trepar estou podendo.
Nunca mais vi o sujeito.
Todos sabem que muita gente sofreu com o golpe de 64, de todos os lados. Mas para a imensa maioria do povo brasileiro o golpe significou pouca coisa.
Ainda mais para uma criança que queria mesmo era se formar no primário.